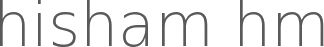🔗 A lógica brasileira, ou a brasilidade da filosofia
Antes de começarmos, uma expressão que não se ouve todo dia: “a lógica brasileira”. Quando eu lhe digo “lógica brasileira”, o que vem à sua cabeça? Voltaremos a isso depois.
Esses dias eu estava conversando com uma amiga sobre escolas de filosofia, coisas que a gente lê e tenta estudar. Comentei com ela que tinha a impressão que aqui no Brasil quando eu falo com as pessoas sobre filosofia, a referência parece ser sempre a tal da filosofia continental — alemães do século XIX, franceses do século XX, de Schopenhauer a Derrida, essas coisas — enquanto os americanos seguem a tradição analítica dos ingleses. Isso nos levou a pensar sobre filosofia e lugares, aí ela comentou de um livro “ressentido, mas interessante” chamado Crítica da Razão Tupiniquim, de Roberto Gomes. Procurei um pouco a respeito do livro e achei algumas resenhas. Em uma delas, o argumento central do autor parece ser resumido dessa forma:
O fato é que as nossas academias produzem historiadores da filosofia, comentadores… mas não exatamente filósofos.
De fato, é muito mais comum ver gente falando dos grandes nomes de fora do que daqui, e nas prateleiras da seção de filosofia das livrarias, quando vejo nomes brasileiros, são em livros discutindo os filósofos estrangeiros.
Isso nunca me chamou a atenção em particular, talvez por não ter uma visão nacionalista sobre as coisas, talvez por não ter sequer expectativas a respeito. Mas o fato do assunto ter sido trazido me fez pensar a respeito. Na verdade, me fez pensar mais sobre o porquê da percepção da tal “falta de uma filosofia nacional”. Afinal, se os americanos, com sua escola do pragmatismo, são “continuadores” da filosofia dos ingleses e não meros “comentadores”, por que então nós, latino-americanos, não poderíamos nos considerar o mesmo em relação à tradição continental?
Acho que é mais uma questão mais de auto-imagem do que qualquer coisa, o que me remeteu ao excelente blogpost com 65 impressões de um francês sobre o Brasil que circulou essa semana (recomendo muito a leitura, faz muito bem ver o tal “olhar de fora”). Em particular lembrei do ponto 46, um item mais sério no meio de vários outros mais divertidos:
46. Aqui no Brasil, o brasileiros acreditam pouco no Brasil. As coisas não podem funcionar totalmente ou dar certo, porque aqui, é assim, é Brasil. Tem um sentimento geral de inferioridade que é gritante. Principalmente a respeito dos Estados Unidos. To esperando o dia quando o Brasil vai abrir seus olhos.
Dito assim parece uma visão simplista, parte óbvia e parte ufanista com o lance do Brasil “abrir seus olhos”. Mas lembro sempre de uma anedota interessante que ilustra de forma cabal essa questão da auto-imagem. No excelente Coding Places, do meu amigo Yuri Takhteyev, que apresenta uma visão sociológica sobre a globalização através do prisma do mundo do desenvolvimento de software no Rio de Janeiro, ele faz uma observação sobre como nós brasileiros usamos a palavra “nacional”. Lembrando que em inglês “national” não se usa como usamos “nacional” aqui. Lá, “national” só se usa em coisas do tipo “national security” e “national anthem“, é pra falar da Naçããão mesmo. Pros usos mundanos eles usam “domestic” (do mesmo jeito que falamos “voo doméstico” aqui). Do livro:
The Portuguese phrase Antônio uses to describe Lua in the end—”um software nacional”—is remarkably ambiguous. While it can be literally translated as “national software”, such a translation would connote a lot more patriotic pride than the Portuguese word “nacional” typically implies. Products that are described with this adjective are often understood to be local substitutes for foreign products that are either not available or more expensive. (For example, a visitor to a Brazilian bar may be offered a choice between an expensive “whisky importado” and a cheaper “whisky nacional.”)
Quando li esse trecho, me surpreendi ao notar que sim, sem nem estar escrito quais são os whiskies no menu, vamos imediatamente assumir que o importado é melhor e que “nacional” implicitamente significa pior. Acaba que ao adjetivarmos algo como “nacional” ou “brasileiro”, na imensa maioria das vezes acabamos inconscientemente depreciando a coisa, exceto talvez em se tratando das artes (”música brasileira”, “literatura brasileira”).
O que nos traz à “lógica brasileira”. O que seria uma lógica brasileira? Como bom brasileiro, posso até imaginar de bate-pronto umas piadinhas pra fazer em relação a essa definição e suponho que você também.
Mas o motivo pelo qual eu pensei nesse termo foi por estar tentando lembrar de algum trabalho relevante de filosofia feito no Brasil. Lembrei que, apesar de nas artes e na psicologia (duas áreas com as quais tenho contato indireto por causa de pessoas que provavelmente estão lendo esse post aqui :) ) as referências de filosofia serem da escola continental (e onde as referências nacionais pendem mais para a psicanálise), um trabalho de filosofia de que eu tenho conhecimento e que é feito no Brasil é no campo da filosofia analítica… e que há uma escola de estudo de lógica não-clássica que é mundialmente conhecida como, sim, lógica brasileira.
Trata-se do trabalho do curitibano Newton da Costa, um dos fundadores do estudo de lógica paraconsistente, do seu aluno Walter Carnielli (co-autor de um livro-texto de lógica que é usado em lugares como Cambridge, Carnegie Mellon e afins) e dessa galera toda que estuda lógica na Unicamp. (E sim, eu notei que acabei de apelar à referência das universidades “de fora” pra validar a relevância do trabalho do Carnielli.)
Mas o que seria essa “lógica brasileira”?

Helio Oiticica, Metaesquema II, 1958
Bom, relembrando que lógica clássica é aquela tipo “Todos os homens são mortais, Sócrates é mortal, logo…”, o que é conhecido como “lógica brasileira” é um tipo de lógica não-clássica, isto é, que não segue todos os axiomas da lógica aristotélica. Talvez você pense: “mas peraí, se não seguir todas as regrinhas da lógica, ela não ‘quebra’?”. Essa é a ideia. Mais especificamente, é um tipo de lógica paraconsistente, que é justamente um tipo de lógica que, ao contrário da lógica clássica, permite a existência de contradições. Como diz a Wikipedia:
Paraconsistent logic is the subfield of logic that is concerned with studying and developing paraconsistent (or “inconsistency-tolerant”) systems of logic.
Sinceramente, eu acho pensar que a “lógica brasileira” seja um tipo de lógica que dá espaço à contradição e que seja tolerante à inconsistência, poeticamente apropriado.
Acho que o Brasil só vai “abrir seus olhos” como sonha nosso amigo francês quando nos dermos conta e aceitarmos essa nossa natureza, com suas contradições e inconsistências. Se até um rigoroso sistema de lógica formal pode ser pensado e entendido dessa forma, imagine o resto. Aí está a brasilidade da filosofia, e talvez até a filosofia da brasilidade.
🔗 How you look, how you sound, what you say: Alexandre Garcia e o preconceito linguístico
Circulou hoje na internet o vídeo de um comentário de Alexandre Garcia criticando o uso no ensino de um livro que trata da noção de preconceito linguístico. Foi um dos links mais divulgados no Twitter ao longo do dia.
Ao tentar entender o porquê de tamanha comoção na internet a favor do vídeo, lembrei de uma frase do hilário Eddie Izzard que minha namorada gosta de repetir: “o que conta pra maioria das pessoas é 70% a sua aparência, 20% como você soa, e 10% o que você diz” (no original: “it’s 70% how you look, 20% how you sound, 10% what you say”).
Toda vez que vídeos como esse circulam eu tenho a sensação de que as pessoas se identificam com o tom do discurso: todo mundo tem uma indignação com o “estado atual das coisas” (mesmo que isso seja um conceito um tanto vago) e gostaria de um Brasil melhor.
Quando aparece alguém que soa que está fazendo um discurso indignado em prol de um Brasil melhor, sempre ganha de cara bastante simpatia. Quando a sua aparência é respeitável — afinal, é um comentarista na Rede Globo! — imediatamente ganha algum crédito.
Resta o que ele diz. Dado que o que ele diz trata de um debate sobre variações linguísticas que ele apenas vagamente distorceu e de que a maioria das pessoas não está ciente, os outros dois fatores dominam e o vídeo é um hit certo.
A argumentação de Garcia apresenta vários pontos aparentemente válidos, mas distorce totalmente a questão da política pública em relação a variações linguísticas em vigor desde o governo FHC e mantida pelo PT (portanto não é uma questão partidária). É natural que quem não está a par do assunto se assuste com a ideia de “um livro que defenda falar errado”.
Porém, o que se defende não é isso. O que se defende é reconhecer que é fato que não se fala como se escreve, e que diferentes grupos falam de maneiras diferentes, em sotaque e em gramática. E sim, tanto na fala como na escrita o “aceitável” varia conforme a situação. Aqui no blog escrevo de forma mais relaxada do que se estivesse escrevendo um texto acadêmico. Dando uma palestra, falo de forma mais monitorada do que falando com os amigos.
O ponto central é que nenhuma dessas falas corresponde à escrita. Todo mundo fala de um jeito e escreve de outro. Até o Alexandre Garcia, que no próprio vídeo diz “e é óbvio que a raiz de tudo TÁ na capacidade de se comunicar” (aos 0:51). Por esse motivo, não procede o argumento dele que diz “Renata, quando eu TAVA no primeiro ano do grupo escolar e a gente falava errado a professora nos corrigia porque ela estava nos preparando pra vencer na vida”… bom, sr. Garcia, segundo essa lógica de que só a norma culta é certa, você continua “falando errado”, mas pelo visto conseguiu vencer na vida mesmo assim, não?
O que pessoas como ele querem é esconder o fato de que alguns erros são aceitos em um determinado contexto e classe social (até um comentarista da Rede Globo pode dizer “tá” e “tava”) e outros não são (dizer “as mina” é coisa de gente “sem educação”). Isso, resumindo em uma frase, é o preconceito linguístico. [Na prática, isso varia conforme o lugar também: no Rio Grande do Sul as classes média e alta “comem” os plurais ao falar muito mais do que no Rio de Janeiro, por exemplo, onde isso tem uma percepção mais forte de fala de classe baixa.]
O que o MEC defende é que não há lógica em relevar que o aluno de classe média fale “a gente tava” e oprimir o aluno de classe baixa que fale “as mina” — o que se deve é ensinar a ambos que se escreve “a gente estava” (ou “nós estávamos”) e “as meninas”, e que conforme o lugar onde eles estiverem é mais aceitável falar de um jeito ou de outro.
Alexandre Garcia fala em “educação rígida, tradicional e competitiva”. Pode até soar bonito em um discurso indignado que se coloca contra uma suposta “chancela para a ignorância”. Mas nós queremos “educação rígida” em vez de ensinar adaptabilidade num mundo tão dinâmico como o de hoje, “educação tradicional” em vez de inovadora, e “educação competitiva” em vez de colaborativa? Eu não quero.
Ainda assim, é triste ver que o “how you look, how you sound, what you say” se aplica a essa história em outro nível: se a sua aparência não for respeitável (como a do comentarista da Globo) e a sua retórica não for eloquente (como a dele), os seus desvios da norma culta não vão “passar batido” como os do Alexandre Garcia, e ainda vai ter gente na TV discursando para que o seu modo de falar seja combatido.
Para saber mais sobre a polêmica em torno do livro “Por uma vida melhor” e as variações linguísticas, recomendo este texto.
Follow
🐘 Mastodon ▪ RSS (English), RSS (português), RSS (todos / all)
Last 10 entries
- Aniversário do Hisham 2025
- The aesthetics of color palettes
- Western civilization
- Why I no longer say "conservative" when I mean "cautious"
- Sorting "git branch" with most recent branches last
- Frustrating Software
- What every programmer should know about what every programmer should know
- A degradação da web em tempos de IA não é acidental
- There are two very different things called "package managers"
- Last day at Kong